Em 2004, realizamos, para o segundo número da Revista Devires, uma entrevista com Jean-Louis Comolli. Ele acabara de realizar “Os espíritos do Koniambo”, filme sobre o povo kanaque da Nova Caledônia, uma das últimas colônias francesas. Um documentário que alcança revelar a dimensão política de seus atores/personagens na luta por retomar seu passado e se afirmar diante dos colonizadores. Entusiasmado pela realização do filme, pelo desafio de “conceber a alteridade do outro sem reduzi-la (muito)”, Comolli nos respondia e nos colocava novas indagações sobre o documentário e o cinema de ficção, o lugar da subjetividade do diretor e a do espectador, a relação entre o visível e o invisível, a espetacularização das artes, entre outros temas.
Dez anos depois, em 2014, voltamos a entrevistar Comolli, motivados pela realização, no forumdoc.bh, da mostra-seminário “O inimigo e a câmera”. Na ocasião, propusemos a ele a atualização do debate em torno da questão que nomeia seu célebre artigo de 1997, publicado na revista Traffic: “Como Filmar o Inimigo?”. A partir de sua própria experiência, filmando durante quase dez anos o avanço da Frente Nacional, partido de extrema-direita francês, Comolli refletia sobre algumas “obstinadas e talvez vãs questões”: para combatê-lo, é preciso filmar o inimigo? Como, a que preço, sob quais riscos? Afinal, para que haja filme, “mesmo sendo o inimigo aquilo que é”, é preciso negociar, colocar-se em acordo, compartilhar uma cena. Mas como conduzir uma relação com o inimigo?
Voltando às entrevistas agora, depois da partida de Comolli, nos comoveram sua lucidez, a perene atualidade de seu pensamento, o sempre firme posicionamento político, a sensibilidade e o brilho de seus argumentos... Para homenageá-lo, e para seguirmos aprendendo com ele, republicamos abaixo trechos das duas conversas.
[2004]
Você acabou de finalizar um filme sobre o povo kanaque da Nova Caledônia. Você acredita que se fez compreender pelos kanaques e, ao mesmo tempo, pelo público francês?
Se me fiz compreender? Sim, sem dúvida. Primeiro eram os kanaques que deveriam ser compreendidos pelos espectadores franceses. Ainda que a Nova Caledônia seja uma das últimas colônias da França, tudo o que com ela se relaciona é fortemente ignorado e, às vezes, recusado pela opinião pública francesa. Há uma dimensão direta e claramente política no próprio fato de fazer esse filme no qual os kanaques não são, como é de costume, um pano de fundo vagamente folclórico, ou suporte de um discurso “acadêmico” vagamente etnológico, mas sim tratados como atores de seu destino político, de sua história, de sua consciência, de sua cultura; como homens maiores e responsáveis, como sujeitos falantes e pensantes. Para mim, o desafio foi, no fundo, aquele da operação cinematográfica como tal: conceber a alteridade do outro sem reduzi-la (muito). Mostrar como esse “outro” kanaque, bem longe de nós, franceses, ocidentais, brancos, e, além disso, colonialistas, podia nos falar, dirigir-se a nós, se fazer compreender e, melhor ainda, nos falar de nós, isto é, nos pensar. O cinema documentário permite esse pequeno e simples milagre, nele nós descobrimos que o outro filmado nos pensa também, que ele tem a sua ideia de o que nós somos e de o que nós fazemos. Para mim, isto é o que é levar verdadeiramente em conta a alteridade: não pensar o outro, mas pensar que o outro me pensa.
Você sempre realizou filmes na Europa, sobretudo sobre a política francesa. Qual é a diferença entre fazer um filme sobre os kanaques e um filme sobre um político da extrema direita como Jean-Marie Le Pen?
Nada de comum: eu filmei Le Pen e os quadros políticos da Frente Nacional [partido político de extrema-direita na França] como inimigos e filmei os kanaques como amigos. Não obstante, apliquei em todos os casos um único princípio: que cada pessoa filmada (e falo da prática documentária) encontra sempre aberta a possibilidade de tomar a cena, até mesmo o filme, para fazer a “sua” cena, o “seu” filme. O importante para mim é que a operação cinematográfica seja realmente compartilhada, que o “poder” que o fato de filmar cria possa ser “tomado” pela pessoa filmada; dito de outra forma, que o desejo do filme não apareça somente de um lado (o da realização), mas também dos dois lados da câmera: há, entre aqueles que são filmados, eu penso, um desejo de filme tão grande, senão maior, do que o desejo daqueles que filmam. Como propor aos kanaques um tipo de filme que se tornasse um filme “deles”? Simplesmente associando-os estreitamente a tudo que se passa, filmando-os na sua língua, e deixando o dispositivo cinematográfico bem aberto, bem poroso para que cada um possa percebê-lo como próximo, à sua mão. Dito de outro modo: minha preocupação é que cada um, bom ou mau, apareça no filme segundo sua própria mise-en-scène, colocando na frente aquilo que, conscientemente ou não, ele acredita ser bom para ele; sendo, em suma, “o melhor possível”. A liberdade do espectador está ligada à afirmação livre dos personagens. Eu diria ainda: para mim, o cinema é profundamente igualitário. Um corpo equivale a outro para a câmera, todos os corpos são, se assim posso dizer, igualmente singulares, igualmente distintos, igualmente únicos.
Entre os antropólogos, há sempre uma busca por atingir o ponto de vista das pessoas estudadas. Mais que isso, procura-se mesmo pôr em risco as categorias da antropologia ou da sociedade à qual pertence o antropólogo. É possível fazer um filme tendo como desafio esse mesmo projeto?
Acho que essa questão de colocar em crise é central. Em primeiro lugar, é o espectador de cinema que deve ser colocado em crise, isto é, deslocado para fora das suas referências habituais, em suma, “modificado”, por pouco que isso seja. O espectador que eu defini neste filme (branco etc.) não sai completamente indene da viagem cinematográfica. Sua história lhe volta contada por um outro. O seu refugo retorna do lugar do outro.
No livro Ver e Poder, você escreveu que “acreditar na realidade do mundo através das suas representações filmadas é imputar-lhe uma dúvida”. Parece-nos, então, que se trata de uma questão de crença. Como a crença aparece no cinema de ficção e no documentário? Como ela aparece no jornalismo, na ciência, na mitologia kanaque?
A crença que é requisitada ao espectador de cinema é de um tipo bem particular: é uma crença, como eu escrevi, não desprovida de uma certa dimensão de dúvida. O espectador de cinema é animado por uma denegação insaciável: algo nele “sabe” que ele está num espetáculo, no artificial, no simulacro, mas, ao mesmo tempo, ele acredita no espetáculo. Um não contém o outro: “eu sei, mas mesmo assim...”. Então, no cinema, há a possibilidade de relativizar a crença, de vivê-la de dentro e de fora ao mesmo tempo, e não ser submerso por ela. O espectador sabe que é um espectador. Ele tem a crença e a consciência ao mesmo tempo. Essa dualidade, ou duplicidade, é, evidentemente, mais forte naquilo que chamamos de “documentário”, pois o pacto implícito que se dá com o espectador do “documentário” é de que o filme tem uma relação direta com tal ou tal realidade referencial. Mas essa crença na proximidade entre o filme e seus referentes é sempre trabalhada por uma dúvida quanto à representação: é isso mesmo? Forçaram as coisas? etc. O espectador vê que o cinema, mesmo quando parece reproduzir o mundo, o altera e o transforma em mundo filmado: o espectador do documentário deve interrogar os efeitos de real que lhe são apresentados. É certo que fora do cinema, no mundo da informação, por exemplo, nas mídias, os mecanismos da crença existem também, mas eles são negados. Assegura-se ao telespectador do jornalismo televisivo ou ao leitor dos jornais que ele está diante de verdades “objetivas”. O cinema é sempre mais honesto, menos manipulador, pois ele nunca mascara completamente as condições da experiência para o espectador, que nunca é totalmente enganado ou totalmente alienado pela representação.
“Talvez o próprio tempo seja um dos maiores patrimônios culturais intangíveis das comunidades indígenas e afro-brasileiras. Um tipo de patrimônio ameaçado justamente pela compressão do tempo na indústria cultural do capitalismo contemporâneo”, escreveu José Jorge de Carvalho. Como poderia o cinema (arte do tempo) dialogar com o “patrimônio” temporal de grupos sociais e étnicos até certo ponto marginais à sociedade (e ao tempo) do espetáculo?
Esta questão é, para mim, uma das mais importantes. Trata-se de acolher num filme kanaque algo da temporalidade do mundo kanaque. Isso já no caráter cíclico da narrativa, em espiral ou em laços. Mas também na maneira de filmar: na filmagem, nós colocamos em prática uma escuta que nos associava plenamente ao próprio ritmo do corpo e das palavras filmadas. A duração dos planos, a lentidão e a raridade dos movimentos do aparelho, a atenção presente, toda uma série de formas através das quais buscamos traduzir as formas do tempo kanaque. A duração dos planos, sobretudo, é essencial. Eu tenho plena consciência de que essas maneiras de fazer filme opõem-se fortemente ao regime frenético do cinema espetacular. O espetáculo é ávido e impaciente, ele não tem tempo (time is money), ele não escuta, ele não espera. O cinema pode fazer exatamente o contrário: tomar todo o tempo, voltar sobre o motivo, esperar e recomeçar. Creio que nossos “atores” kanaques sentiram que nós não estávamos apressados: quando filmávamos uma entrevista durante duas ou três horas, eles sentiam que podiam empregar suas palavras com toda a liberdade. Essa é a condição de uma palavra poética. E a palavra kanaque é poética. As palavras têm peso, importância, elas são desafiantes, como em todas as culturas orais.
Você disse certa vez que, iniciado o processo de feitura do documentário, algo como “um roteiro coletivo” começa a ser produzido: “esta é a força do cinema documentário, ele induz aqueles que participam do filme a trabalhar eles mesmos no roteiro”. Poderia abordar, a partir de sua experiência, essa “roteirização coletiva”?
Foi a partir das narrativas efetuadas pelos kanaques no momento da primeira filmagem que surgiram algumas questões, e, sobretudo, a atividade política desenvolvida por Antoine nos últimos anos de sua vida, para que os direitos (de dono da terra) de seu clã sobre o maciço de Koniambo fossem reconhecidos. Esses fragmentos de roteiro apareceram naquele momento, vindos de vários de nossos futuros personagens. Decidimos centrar o filme sobre este personagem desaparecido, Antoine, que todos os outros haviam conhecido e que continuava sendo uma referência para eles, um morto que os olhava. A segunda filmagem, cinco meses depois, colheu aquilo que havia sido semeado: no intervalo, nossos personagens principais haviam refletido, elaborado, “roteirizado”; pudemos, então, colher o fruto do trabalho de imaginação deles, de seus cálculos também, da estratégia que eles colocavam em ação em relação ao filme. Eu falo, então, de um “roteiro coletivo”, porque as situações, os acontecimentos, as repercussões produzidas na “realidade” (a realidade filmada) são inimagináveis no escritório de um roteirista e só podem acontecer porque elas implicam pessoas reais em estratégias e em experiências reais.
Qual a importância de um cinema que contribui para elaborar processos históricos e políticos que, “a quente”, não costumam ser compreendidos em sua complexidade? Você falou certa vez em um “cinema de citações”: por meio da pesquisa e montagem de arquivos, “encontrar nosso lugar no presente”.
A luta passa hoje em dia por uma reapropriação da memória coletiva. O funcionamento (globalizado) da televisão e das grandes mídias se dá no mesmo sentido (infelizmente) que o funcionamento do neoliberalismo: a destruição dos laços, das referências, das transmissões memoriais. A circulação mundial dos trabalhadores, a mobilidade mundial das empresas, o desenraizamento, o exílio, as migrações, os deslocamentos de populações, o fechamento das fábricas etc., tudo isso leva a uma destruição da possibilidade de constituir uma memória, a começar pela memória das lutas. O capital hoje em dia aplica à risca o slogan da “Internacional”: “façamos tábua rasa do passado”. Nós entramos na idade da tábua rasa. O apagamento maior das filiações, das heranças, dos recursos vindos das profundezas dos tempos. Isso se traduz, dia após dia, pelo consumo destruidor de “informações”, que não deixam heranças, não se articulam umas com as outras, não entram nas montagens explícitas e observáveis. Há, portanto, um desafio político forte de retomar e recolocar em forma aquilo que desaparece diante de nós, em nossa presença, sem que possamos fazer quase nada, pois, com nossa memória, são nossas possibilidades de resistência ou de combate que desaparecem.
Gostaríamos que você abordasse o dispositivo de pôr em cena o corpo, a palavra e a escuta de Michel Chamson nos filmes políticos feitos em Marselha. Você disse certa vez que a “crise da política na França está ligada a um déficit de escuta da palavra política”. Qual é a importância da escuta?
Deleuze e Foucault observaram que nosso tempo é marcado pela superabundância das palavras. Confissões, discursos, reclamações, declarações que não acabam mais. A palavra está em todo lugar e em lugar nenhum. No cinema, o espectador é convidado não somente a olhar, mas a escutar, e mesmo a conjugar o olhar e a escuta, o que não lhe acontece a toda hora na vida cotidiana. A escuta é um dos parâmetros fundamentais do lugar do espectador: se ele se cala, é para escutar. O espectador, neste mundo da palavra inesgotável, supostamente não fala. O silêncio (relativo...) do espectador mobiliza as potências da escuta. O que nós fazemos, quando filmamos no documentário, é levar o sujeito filmado a entrar na sua própria palavra, o que só é possível a partir de uma escuta verdadeira. O sujeito falante sabe, sem dúvida nenhuma, se aquele ao qual ele dirige a palavra está escutando-o ou não. A escuta é aquilo que constrói a palavra escutada. A escuta é relação ativa (e não passiva). O cinema é, na verdade, uma arte da escuta, e eu costumo brincar dizendo que a câmera é uma orelha. Não se trata somente da escuta da palavra política, mas de qualquer palavra. No cinema, pela escuta posta em prática na filmagem ou pela escuta do espectador durante a sessão, a palavra filmada torna-se ação: ação falada. Não se trata mais de conversação, mas de intervenção, de força em ato.
Você falou, num texto, de seu interesse pelo “menu fretin cinematográfico”, pelos filmes que não cessam de escapar “de uma categoria estética já dobrada à ordem do mercado”: “um cinema nômade, volátil, refratário”. Onde você o encontra hoje?
Um pouco por toda parte. Sobretudo nos vários filmes ditos “documentários” que são realizados aqui e alhures com o vídeo digital. Acho que, hoje, trata-se de redefinir o que nós chamamos de “cinema”: o cinema tornou-se uma prática social com tendência a se generalizar e dispersar largamente por todas as camadas da sociedade ou quase, e contribui, assim, unicamente pelo efeito dessa generalização, para transformar as relações sociais e colocar no centro das relações intersubjetivas a questão da representação do outro. Não falamos do cinema no vazio, nem mesmo dentro do espaço protegido das salas de cinema ou das cinematecas e dos festivais: falamos do cinema que se encontra na frente de batalha dessa prática que engaja um número cada vez maior de jovens. Trata-se, aqui, evidentemente, do emprego de meios, de técnicas e de formas que não estejam necessariamente voltadas para o “espetacular”. Mais que nunca, para atualizar o pensamento de Guy Debord, trata-se, para mim, de distinguir “cinema” e “espetáculo”, o primeiro sendo e tornando-se uma análise crítica do segundo. E é justamente por causa dessa espetacularização, cada vez mais intensa, até mesmo das relações intersubjetivas que, paradoxalmente, se efetua, a cada momento, uma “saída” das normas espetaculares impostas pelo cinema industrial-mercantil.
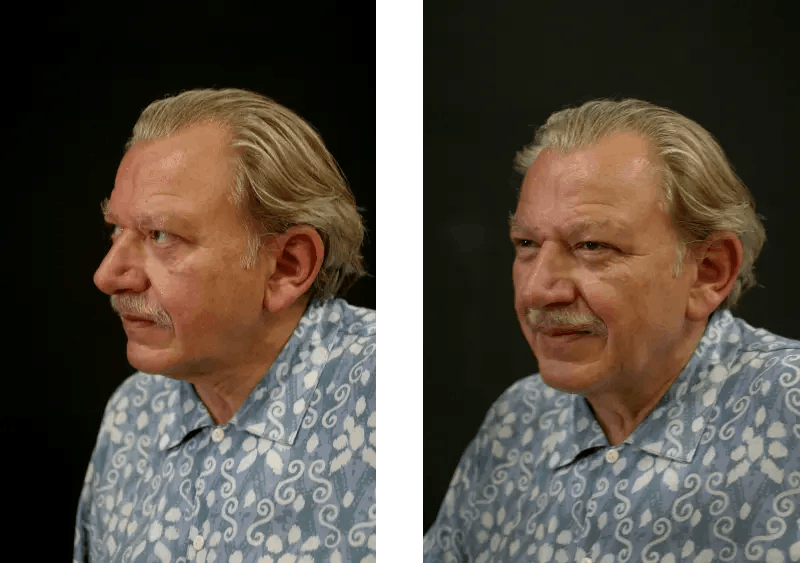
fotos: Kátia Lombardi
[2014]
O inimigo: “uma ameaça que deve ser levada a sério”. Há, no seu entendimento, uma ética que rege os combates fílmicos com o inimigo?
Entre o inimigo e eu, há uma câmera e um gravador, portanto, o espectador. O espectador não está necessariamente de um lado ou de outro. Ele está ali para descobrir um filme, que pode ou não corresponder às suas ideias. Trata-se, então, de lhe dar o que pensar. O que é útil à luta que penso conduzir utilizando o cinema dito “documentário”? A única resposta, na minha opinião, é filmar para ver, para ver melhor, para melhor compreender o que há nos comportamentos e mesmo na cabeça do inimigo: em qual história isso se inscreve? Quais são as formas postas em jogo? Se eu filmo o inimigo, é para perscrutá-lo. Descrevê-lo, desmontá-lo historicamente (De onde ele vem? Em qual história ele se inscreve?). O cinema ativista tem o dever de colocar em foco, de tornar claro. Trata-se de combater as falsas ideias, as confusões, as misturas, para fazer aparecer o inimigo tal qual ele é de verdade. O cinema é uma ferramenta de conhecimento. Isso significa que a exigência é sempre a de alcançar o espectador pela via da razão, e não somente da paixão. É preciso odiar o inimigo, sem dúvida, e combatê-lo sem piedade, mas para isso é preciso compreendê-lo e contar a história que é dele e que ele não conta.
Você dizia, no final dos anos 1990: “descrever e denunciar não é mais suficiente”. Quais são, hoje, as principais tarefas e desafios que se colocam para um cinema político?
Descrever e denunciar, sim, é sempre indispensável. Mas não é suficiente: é preciso tentar compreender como o inimigo ganha, em parte, o apoio do povo, é preciso colocar a questão das alianças declaradas ou escondidas, dos conluios. Filmar o inimigo é também filmar o que há em torno dele e que o fortalece. As redes, os clãs, as solidariedades que se percebe e aquelas que não se vê. É isso que eu queria dizer. É claro que minha resposta só tem sentido quando se coloca a questão de filmar. Se pensamos que filmar não é mais suficiente, então convém passar a uma outra forma de luta, organizar-se, ir para a luta armada. Mas o cinema militante não tem que “matar” aqueles que filma. Filmar não é matar. É exatamente o contrário: é supor que o inimigo (o outro) pertence a um segmento da humanidade que reconhece a necessidade da mediação do cinema. Filmar o inimigo é fazê-lo entrar em um filme junto comigo. É, portanto, familiarizá-lo, domesticá-lo. Isso não tem sentido se não for para melhor conhecê-lo e melhor combatê-lo.
Nos anos 1980 e 1990, você realizou alguns filmes (notadamente em Marselha), acompanhando as ações e disputas da Frente Nacional, naquele momento em ascensão. Filmar para combater o inimigo. Passados cerca de 20 anos, em momento de exacerbação das esferas da propaganda, da informação-mercadoria e do espetáculo, ainda é possível/preciso filmá-los, de maneira a tratar a cena política segundo uma estética realista?
Para nós, cineastas documentaristas engajados numa luta contra os fascismos (globalmente), é essencial compreender que essa luta passa pelas imagens e pelos sons. O Espetáculo generalizado é o inimigo. Não se pode, portanto, fazer um filme contra o Espetáculo utilizando seus meios, suas técnicas, suas lógicas – que trabalham para a destruição do vínculo social e para a redução do livre pensamento. A questão do COMO torna-se mais vital que a questão do PORQUÊ. Eu critico os filmes de Michael Moore porque eles combatem a publicidade com os meios da publicidade. O inimigo sempre começa por dominar a linguagem, por controlá-la, por fazer com que nós falemos a mesma língua que ele. É preciso compreender que a potência do inimigo reside no fato de que ele impõe modos de pensamento através de certas palavras. O cinema de combate também lida com palavras, com raciocínio, com lógicas. É por isso que é vital forçar o inimigo a mudar de terreno, a entrar em uma outra forma de discurso. Filmar, por exemplo, as ligações, as redes, as lógicas, as alianças, é não se contentar com slogans, é ir mais longe que os chavões da mídia, que esse gosto pela velocidade, essa brutalidade midiática que bloqueia as percepções e o pensamento. O espectador é manipulado pelas montagens curtas que tomam a brevidade dos slogans como modelos! A guerra está no tempo. Filmar e montar em longa duração já é combater as formas dominantes.